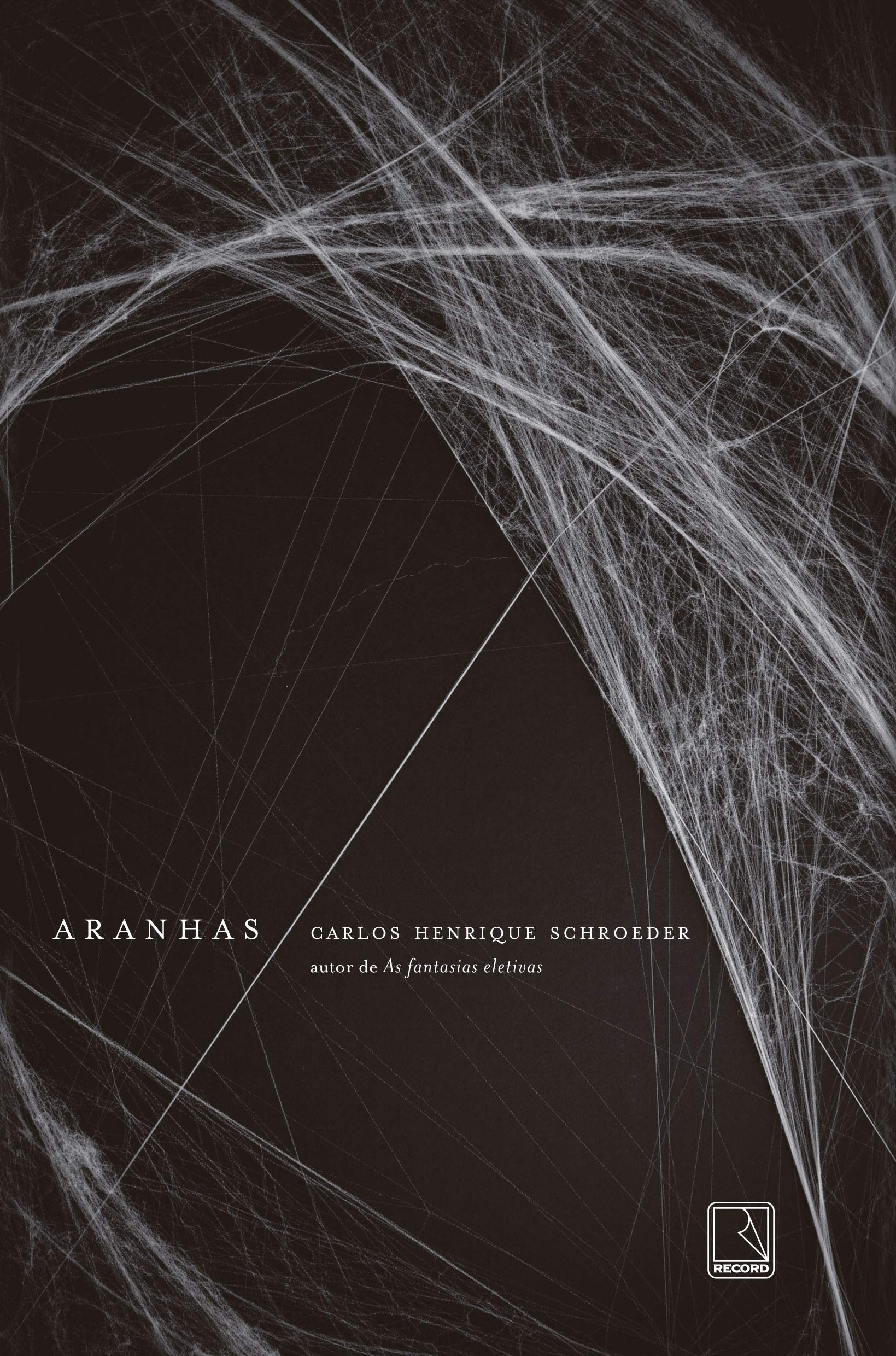'Agora tenho uma boa relação com as aranhas'
Carlos Henrique Schroeder lança livro de contos inspirados nos aracnídeos O leitor de "Aranhas", de Carlos Henrique Schroeder (Record, 192 pgs. R$ 42,90), não deve esperar um livro de contos convencional. O volume combina dezenas de textos muito diferentes, na ambição, nas dimensões e na forma. Mas esse caráter de miscelânea é aparente: uma estrutura invisível acrescenta uma camada de sentido que cada história, isoladamente, não tem. Cada texto é inspirado por uma espécie diferente de aranha, mas esse nexo tampouco é evidente. Também autor do premiado romance "As fantasias eletivas", Schroeder explica que o livro nasceu de sua obsessão pelos aracnídeos e de dois perturbadores desenhos a carvão do artista simbolista francês Redon, "Aranha rindo" e "Aranha chorando". Influenciado por Borges e Cortázar, o autor combina erudição, sarcasmo e imaginação em uma teia narrativa na qual, somente ao final da leitura, tudo se entrelaça. Você escreve sobre dois desenhos do artista francês Redon, com os quais tem pesadelos constantes. Escrever "Aranhas" funcionou como uma espécie de terapia para se libertar dessas imagens perturbadoras? Funcionou?CARLOS HENRIQUE SCHROEDER: Eu acredito que um escritor deve ser fiel às suas obsessões. A obsessão de Borges com a mitologia, por exemplo, é claramente refletida em seus contos. Assim como o sentido de deslocamento da família tradicional americana, nos contos de Lucia Berlin. Eu passava os verões numa pequena casa, rodeada por Mata Atlântica, em Garopaba, em Santa Catarina. E todos os dias me deparava com ao menos cinco aranhas, das grandes. Eu invadia o espaço delas, a mata, e elas estavam entrando em meu espaço. Em sua maioria eram as de jardim, tipo a Lobo, que não são agressivas, e que para você levar uma picada, sem gravidade, é preciso meter o dedo nelas. Mas também apareciam as da espécie Armadeira, que são bem agressivas, e sua picada tem ação neurotóxica e cardiotóxica. Resumindo: pode matar. Eu tremia de medo delas. Já me levantava com os olhos arregalados, procurando aranhas pela casa, pois meus filhos eram muito pequenos – hoje um tem 6 e o outro 10 anos – e precisava evitar acidentes. Então comecei a estudar o comportamento e as espécies mais comuns e, quando percebi, estava vendo algumas representações artísticas na literatura, artes visuais, no cinema, e já estava escrevendo histórias inspiradas na aparência, no comportamento delas, colocando como personagens ou alterando clássicos da literatura – em um dos meus contos, Gregor Samsa acorda como uma aranha e não como uma barata. E, como já escreveu o escritor catalão Enrique Vila-Matas: "Não há melhor forma de se livrar de uma obsessão do que escrever sobre ela". Sim, funcionou. Agora tenho uma boa relação com as aranhas.Capa de 'Aranhas'DivulgaçãoOs contos de "Aranhas" são muito diferentes entre si, na dimensão e na forma. Como foi o processo de criação do livro?SCHROEDER: Existe uma linha do tempo na literatura, uma tradição. Eu respeito isso. E, olhando para trás e para frente: que sentido tem narrar histórias do hoje, mas da mesma forma que se contavam há dois séculos? Nenhum. Tudo que mudou nos últimos dois séculos! A linguagem não é uma coisa morta. É uma atividade humana situada cultural e historicamente. Acredito que cada conto pede uma forma de narrar, uma dicção, uma voz... E que a forma deve mudar de acordo com o conteúdo. No posfácio do livro "O boxeador polaco", do guatemalteco Eduardo Halfon, o Antônio Xerxenesky condensa uma ideia que defendo há muito tempo, a de narrativas breves que "não fingem que são os primeiros contos escritos na História da humanidade. Pelo contrário, estão cientes de que estão inseridos em uma tradição, de que uma história dialoga com outra história". "Aranhas" é um livro ciente de si, de sua existência. Por isso é importante ler todos os contos, e naquela ordem, para entender a teia.Sobre o processo, li muitos artigos científicos, vi muitas fotos, desenhos antigos e, quando algo estalava, dava o clique, me debruçava sobre a espécie da aranha e, enfim, escrevia, livre como uma libélula antes de cair numa teia-de-aranha. Escrevi mais de 80 narrativas breves, mas ficaram apenas 32: talvez não as melhores, mas as que formaram a melhor teia. Que relação você enxerga entre "Aranhas" e "As fantasias eletivas", seu livro mais conhecido? Existe alguma linha evolutiva? Você prefere escrever contos ou romances?SCHROEDER: Tanto "As fantasias eletivas" quanto "Aranhas" são espécies de elegias, onde solidão e morte caminham de mãos dadas. São projetos diferentes, com propostas e resultados diferentes, mas calcados nas minhas mais honestas obsessões. Nas minhas fraquezas.Eu prefiro escrever contos. Você tem mais liberdade, e não precisa a todo momento criar artificialidades para a narrativa caminhar, como no romance. O romance me desgasta. Saio arrasado. Mas há histórias que só o romance dá conta de abarcar. Então volta e meia me pego rascunhando um romance. Cada livro pede um projeto criativo, uma investigação, então meus livros são todos muito diferentes um do outro. Admiro romancistas-camaleões por isso: como o César Aira, ou o Alessandro Baricco ou o Wilson Bueno. E também contistas-camaleões, como o Sérgio Sant"Anna, o Donald Barthelme ou o Manoel Carlos Karam. Vivemos uma época de patrulhas identitárias, de lugares de fala etc. Você se sente de alguma forma afetado por isso como escritor? Por exemplo, ao assumir uma voz feminina e lésbica em um dos contos, "De parede".SCHROEDER: Eu sempre escrevi sobre as minorias, muito antes da febre das patrulhas. No meu livro de contos anterior, o "As certezas e as palavras" (2010), isso já era bem presente. E tem de tudo: personagens de baixa renda, hipsters, gays... "As fantasias eletivas" (2014), é sobre a amizade de uma travesti com um recepcionista de hotel. No "Aranhas", tem voz feminina e lésbica, assim como voz machista e misógina, tudo depende do narrador. O compromisso do escritor é com a liberdade criativa e com o universo dos seus personagens. Naquilo que eu escrevo, não faço concessões, não cedo uma linha, não me importo se vão me chamar para eventos ou não, se o livro vai ganhar algum prêmio... Escrevo porque sou neurótico, e a escritura, essa mínima espécie de esquizofrenia – na qual você dá voz a outras vozes – é uma forma de colocar ordem no caos que são minhas referências, nos personagens que surgem, nas ideias que não cabem na rotina comum. E assim, por menos leitores que eu tenha, eu os alimento com outras perspectivas. E assim toco minha vida, minha escrita.No conto "Aranha-Lobo", você demonstra intimidade com o surf e o jiu-jitsu, inclusive na linguagem dos personagens. Isso vem de uma pesquisa ou você realmente circula nessas tribos? SCHROEDER: Estou há 20 anos sem pegar numa prancha e há 12 sem rolar em um tatame. Mas já pratiquei ambos. Estava completamente por fora, então tive que pesquisar. Conversar com algumas pessoas, fuçar na internet. Mas conheço a vibração da água, a tensão corpo-água do surf, ou a eletricidade de um tatame, a motricidade, os movimentos de cada esporte, e isso ajuda e muito a compor a narrativa, na busca de uma honestidade ficcional. E ainda acompanho os dois esportes, mas pela televisão. Não tenho mais prancha, mas meu quimono está guardado, e o lavo uma vez por ano, para tirar o cheiro de mofo, e sempre penso em voltar. Quem sabe.Alguns contos têm uma atmosfera que lembra Julio Cortázar. Você reconhece essa influência? Com que outros autores dialoga?SCHROEDER: Eu morei no final da minha infância e no início da adolescência em Balneário Camboriú, cidade do litoral norte de Santa Catarina que recebia milhares de argentinos nos anos 1980 e 1990. Então sempre tive contato com a cultura argentina, com a música, com os livros. Foi uma namorada argentina que me apresentou Cortázar, na adolescência, e depois disso entrei numa espiral da literatura argentina: Borges, Alejandra Pizarnik, Macedonio Fernandéz, Alfonsina Storni, Copi, Juan José Saer, César Aira, Manuel Puig, Sergio Chejfec. Autores muito diferentes entre si, mas que ampliaram meu modo de ler e de entender a escritura. Lembro muito bem do prazer da descoberta desses autores e autoras, por indicação ou ainda nos sebos da cidade, em espanhol, ou quando os hóspedes do hotel em que eu trabalhava esqueciam bons livros. Foi uma época mágica, quando eu tinha todo o tempo do mundo para ler. Eu falava espanhol, mas não escrevia e tampouco lia bem no idioma. Então a descoberta da literatura argentina foi também a porta de entrada para o idioma espanhol em sua plenitude, o que me levou para outros autores latino-americanos e espanhóis. Eu me espantava com uma parte razoável dos turistas argentinos e argentinas, pois tinham ao menos uma noção básica da literatura do seu país, que discutiam apaixonadamente. Isso me impressionou bastante. Os anos 1990 foram bastante estranhos: foi a década da abertura do mercado brasileiro aos produtos importados, então estavam todos ansiosos e deslumbrados com tudo que estava chegando. Eu me apeguei aos livros para atravessar essa década, foi o que me impulsionou para escrever também.Mas, na verdade, os autores que citei são tão díspares, diferentes em temas e estilos, que alguns encontravam pequenos paralelos com a diversidade brasileira também. Tínhamos João Gilberto Noll, Sérgio Sant´Anna, Manoel Carlos Karam e Hilda Hilst – e muitos outros – em plena atividade. Somos a soma das nossas referências, então tudo que li, vi, escutei e vi contribuiu para a minha formação. Desde os quadrinhos da infância, os filmes ruins da Sessão da Tarde e Supercine, as músicas das rádios de rock e os espetáculos de teatro que pude ver. Mas é claro que a literatura foi e é minha melhor companhia, pois sou um doente de literatura, sofro do Mal de Montano, termo usado pelo Vila-Matas no seu romance homônimo. Quando um livro te atravessa, é para sempre. Lembro quando li Kafka, Camus e Dostoiévski, também na adolescência, e isso mudou radicalmente minha visão de mundo. Eu fui o típico nerd do interior que passou todo seu tempo em cima dos livros, meus amigos dirigiam, tinham um monte de namoradas, mas eu sempre fui o cara caseiro que ficava com nariz enfiado nos livros. Minhas habilidades sociais só aumentaram quando comecei a trabalhar em hotéis, como recepcionista noturno. O contato com hóspedes de diversas nacionalidades e realidades sociais, a leitura e a escritura incessantes – sobrava muito tempo na madrugada – me ajudaram, num processo de seleção natural, a escolher os caminhos que eu queria percorrer no terreno pantanoso dos processos criativos.Parece que cada vez mais os escritores precisam participar de festas literárias e adotar estratégias de marketing pessoal para ter alguma visibilidade. Como você lida com isso?SCHROEDER: Está tudo um pouco complicado... Os cadernos culturais minguaram, os grandes eventos perderam o prestígio, as grandes editoras se fundiram e andam lentas, enquanto as médias e pequenas vão sobrevivendo na guerrilha. Algumas grandes redes de livrarias viraram caloteiras, e outras ótimas pequenas livrarias de rua faliram. O Facebook, que já foi uma plataforma razoável de divulgação, virou um deserto, a polarização política reduziu o diálogo em todos os espaços, virtuais e reais, a venda de livros cai ano a ano.E no meio de tudo isso estamos nós, os remediados escritores brasileiros, com baixa estima e baixa venda, que tentam usar as cada vez mais limitadas redes sociais para tentar divulgar seus trabalhos. Quando sai alguma coisa sobre um livro meu, eu divulgo nas redes sociais, sem vergonha alguma. Quando lanço um livro me torno o chato auto-divulgador por uns dois ou três meses e depois volto à rotina normal: memes, notícias e fotos da família. Mas não fico caçando motivos, ou likes, ou implorando por resenhas ou críticas e leituras de amigos. E muito menos fazendo lobby para entrar em algum evento grande. Faço o meu trabalho, sem virar capacho ou refém do circuitão, ou bater na porta das panelinhas. Sem grandes esperanças ou ilusões. Eu já trabalhei em jornais, editoras, eventos literários, então não me deslumbro. Hoje em dia, uma poderosa agente literária pode colocar um livro fraco em dezenas de países, e um crítico famoso e irresponsável canonizar esse livro, e a imprensa colonizada referendar e difundir, enquanto uma centena de bons autores nem consegue publicar ou divulgar ou arrumar cem leitores decentemente. Muitos grandes livros somem e só emergem pela generosidade dos leitores.Os Estados Unidos são hoje os maiores exportadores de porcarias literárias com tarjas escritas "genial", "livro do ano" ou "uma voz original", e ajudam a exterminar a bibliodiversidade mundial, com suas cadeias de lojas, jornais, agências etc. Sou um caipira, um nerd do interior do país, com dois filhos para alimentar e uma fila interminável de livros para ler. Não me importa se sairão traduções ou se ganharei algum prêmio, eu só quero poder continuar lendo e escrevendo, e pagando as contas. Sei que isso vai me salvar do museu do rancor no futuro. Além de prêmios, você já recebeu bolsas para escrever. Você vive de literatura? Como enxerga a profissionalização do escritor no Brasil?SCHROEDER: Eu vivo dos derivados da literatura: edito, dou oficinas, palestras, curadoria de eventos. E não dos direitos autorais dos meus livros. Vivo da literatura, mas não da escrita. A profissionalização do escritor no Brasil tem entraves estruturais: baixo nível de leitura, poucas livrarias e eventos literários, concentração editorial, diminuta valorização da literatura contemporânea brasileira, supervalorização da literatura estrangeira e muitas outras questões. O escritor ainda é a parte mais frágil do fraturado mercado literário brasileiro, e isso sempre dificulta toda e qualquer profissionalização. E só vai piorar, pois os índices de ignorância só aumentam.